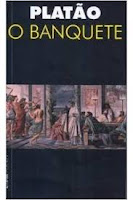|
| SÓCRATES |
Necessidade fisiológica e/ou prazer? Poucos, muito poucos, os filósofos, teólogos ou especialistas que, quanto à alimentação, ao longo da sua vida, procuraram aproveitá-la tranquilamente com o que a humanidade sempre considerou como alimentos agradáveis, prazerosos, principalmente aqueles considerados pela chamada gastronomia, pela arte culinária. Sempre presentes nas suas cogitações, nesse envolvimento, ideias perturbadoras, as de que, via de regra, os alimentos, principalmente os da chamada alta culinária, podiam ser prejudiciais à saúde, além de muitos trazerem para a discussão, com destaque, noções de culpa, arrependimento ou pecado. Para muito poucos filósofos, por exemplo, os prazeres da boca seriam um bem em si mesmo, uma conquista positiva. Sob o aspecto quantitativo dos alimentos, muito citada nesse sentido, por exemplo, a frase de Sócrates, a de que devemos comer para viver e não viver para comer.
 |
| ARCHESTRATO |
Dentre os filósofos que abordaram o assunto positivamente, Epicuro foi sem dúvida o mais conhecido; falou por todos quando perguntou: Teria o homem nascido somente para saborear os frutos mais amargos? Para quem cresceriam essas flores que os deuses fazem florescer aos pés de um simples mortal? Grego, do séc. IV para o III aC, defensor de uma moral hedonista (do grego, hedon, prazer) e de uma teoria do conhecimento sensualista, suas doutrinas se espalharam por todo o Mediterrâneo até o início da era cristã. Apesar de nascido de pais pobres, que foram obrigados a abandonar a sua cidade natal pela colônia ateniense de Samos, Epicuro foi educado nos meios mais cultos da ilha, adquirindo seus conhecimentos principalmente ao entrar em contacto com a obra de dois filósofos, Anaxágoras e Demócrito. Tornou-se depois professor, ensinando sucessivamente em Colophon, Mytilene, Lampsaco e Atenas, onde se fixou, com a idade de 36 anos. Amável e solícito, atraiu um grande número discípulos, tanto pelo seu temperamento como pela doutrina que pregava, composta de três partes: a Canônica, a Física e a Moral.
A Canônica (do grego, kanon, regra) foi palavra que para Epicuro tomou o sentido de um conjunto de preceitos a serem seguidos praticamente. Toda a doutrina epicurista, aliás, tinha fins práticos, sendo seu objetivo maior o de libertar os homens dos deuses e das preocupações com a morte. Inadmissível, absurdo, para Epicuro, que seres tão perfeitos como os deuses se preocupassem com as coisas do nosso mundo, tão cheio de males e imperfeições. Evidentemente, para o nosso filósofo, o objetivo maior do ser humano devia ser o da conquista da tranquilidade da alma, realizando-se com isso um ideal de sabedoria. Para esse fim, o objetivo do conhecimento filosófico devia se centrar na chamada Canônica ou Lógica.
 |
| EPICURO |
Imortais, bem-aventurados, perfeitos, os deuses, para Epicuro, viviam nos espaços vazios entre os mundos, nos intermundi, como os chamaram os latinos, longe das misérias humanas. Epicuro entendia assim que a serenidade dos deuses era o ideal de vida que os humanos deviam buscar, mas sempre tendo em vista uma finalidade prática.
Para o nosso filósofo, como critério da verdade, a fim de se distinguir o verdadeiro do falso, todo o conhecimento devia ter por base as sensações. Seria sábio aquele que soubesse nesse processo buscar o prazer que o levaria a se sentir sempre bem, sabendo, sobretudo, controlar as suas necessidades. Foi este entendimento que levou Epicuro a formular uma das máximas de sua doutrina: a felicidade, no geral, não consiste no simples gozo de uma sucessão de prazeres, mas, sim, em saber o ser humano administrar as suas necessidades de modo a evitar dores e sofrimentos, no geral desnecessários. Procurar o ser humano a chamada ausência de sofrimentos, de dores, através do que designava pelo nome de ataraxia, de modo a que fosse conseguido permanentemente um agradável estado de ânimo. O sentido de ataraxia sempre permaneceu ligado pelos epicuristas a ideias de tranquilidade da alma, de ausência de perturbações, enquanto relacionada com comedimento, controle e harmonia da vida que o filósofo deve levar. Nada de luta de paixões, pois.
Tanto entre as elites gregas e romanas depois, mais quanto a estas, que adotaram comportamentos epicuristas, mereceu grande destaque a promoção de jantares nos quais se servia uma enorme e criativa quantidade de pratos pela noite adentro. Um ingrediente que a elite romana costumava acrescentar aos seus jantares era aquilo que os alemães batizaram depois de schadenfreude (schaden = dano, prejuízo, estrago + freude = alegria maliciosa). Traduzindo: experimentar prazer com o sofrimento dos outros ou, no caso, mesmo com o próprio.
 |
| SÃO JERÔNIMO ( CARAVAGGIO , 1571 - 1610 ) |
Nos jantares e festas das elites romanas, principalmente, era comum a presença de anões, de deficientes físicos, de pessoas deformadas que se exibiam sexualmente como acontece em algumas casas de espetáculo atualmente. Uma das explicações para o cristianismo ter sido aceito pelas classes inferiores da sociedade romana, pelos escravos, principalmente, foi a sua pregação no sentido contrário daquilo que as elites valorizavam. O cristianismo valorizava a negação do pessoal, o comedimento, a herança da terra pelos pobres, a vida depois da morte, o castigo final dos amantes da luxúria, etc. Enfim, condenavam-se os prazeres dos sentidos. Prazer passou a ser sinônimo de culpa, inferno... O nosso famoso São Jerônimo pedia que “suas companheiras fossem mulheres pálidas, magras, sem apetites”. Daí chegamos logo a extremos puritanos como a condenação de todas as especiarias como excitantes sexuais muito perigosos.
 |
| OVÍDIO |
A tudo o que vai acima não há como deixar de juntar a observação fundamental que Epicuro fixou no capítulo da sua Ética: a de que todos os seres vivos procuram se afastar do mal e da dor, a evitá-los, tendendo naturalmente a buscar o prazer, considerando-o, assim o fazendo, como o seu supremo e único bem.
A REFEIÇÃO COMO TRÉGUA - Para os gregos antigos, a alimentação não era simplesmente um meio de se encher a barriga, não havia essa ideia de empanzinamento, o cru atendimento de uma necessidade imposta pela natureza. É claro que havia para eles a fome visceral, obrigatória, fisiológica, mas...
 |
| ULISSES CONVERSA COM EUMEU ( JOHN FLAXMAN , 1755 - 1826 ) |
Comer, em muitas passagens da história dos antigos gregos, como os poemas homéricos o atestam, por exemplo, era criar um interregno agradável para que se pudesse experimentar um lado mais aprazível da vida, uma pausa de doçura em meio às penas da existência. Mesmo as figuras mais simples em Homero sabem disso. Na Odisseia há um personagem, Eumeu (eu = bem, bom + maíesthai = empenhar-se, fazer algo com esforço, o fiel servidor, no caso). Eumeu é o dedicado, o que sabe colocar apropriadamente essa ideia. Ele vinha de uma família real, mas, na infância, fora raptado e vendido como escravo a Laerte, pai de Ulisses; trabalhou sempre para a família dos reis de Ítaca como porcariço. Fiel servo, defendeu o rebanho de porcos do herói ausente do seu reino por cerca de 20 anos. Quando Ulisses voltou, é na cabana de Eumeu que ele se refugia antes como mendigo andrajoso para depois invadir o seu palácio, onde estavam os pretendentes de Penélope. Quando Ulisses os enfrenta, o fiel Eumeu está ao seu lado, lutando também. Numa das passagens do poema, Eumeu confessa que, apesar de levar uma vida difícil, os deuses foram benevolentes quando concedem a um mortal como ele a felicidade de uma boa mesa e o prazer de dela participar com amigos.
Tanto a filosofia como a literatura celebram, de um modo geral, a prática inteligente de refeições e de bebidas (vinho) compartilhadas. Mesmo nas refeições diárias, como no deipnon, a principal refeição do dia ao entardecer, havia esse caráter. Essa refeição era composta de pães, queijos, figos, azeitonas, mel, às vezes um pedaço de carne cozida, um nabo, fatias de pão untadas com azeite, temperos etc.
Muito importante era aquilo que os gregos chamavam de simpósio (syn = reunião + posis = bebida), reunião para se discutir algo, para trocar ideias, conversar, tudo conduzido por um simposiarca, uma espécie de coordenador da reunião. Sempre uma ideia de hospitalidade, de solidariedade, de atuação cultural, de boas maneiras; alternância, troca de papéis, o diálogo, um cenário completo que dizia respeito tanto aos cinco sentidos como à inteligência. Buscava-se o prazer, a convivência amigável. Acima de tudo, a precedência, a honra cabendo aos deuses. Era deles a primícia ou a primeira taça de vinho. Depois, então, os convivas.
Imprópria sob todos os aspectos, como foi feita entre nós, a tradução do Simpósio de Platão por Banquete, já que ali não temos refeições. Xenofonte, no seu Banquete, revela que o tom dessas reuniões era sempre o do gracejo inteligente, elegante, sem nenhum pedantismo, embora neles se colocassem questões dialéticas, morais e metafísicas.
 |
| XENOFONTE |
Onde, hoje, o Simpósio?
Sugestão para leitura e/ou pesquisa: O Banquete, Xenofonte (430-355aC); O Banquete / O Simpósio, Platão (428-348 AC); O Banquete dos Sete Sábios e Questões Conviviais, Plutarco (46-125 dC); O Festim de Palavras (O Banquete dos Sofistas ou Deipnosophistes), Ateneu, como se disse, retor e gramático que viveu no Egito entre os sécs. II e III dC.
A COZINHA SANTIFICADA - Foi no séc. XIII que a Ordem Franciscana estabeleceu que os cozinheiros teriam como padroeira Santa Marta. Aos cozinheiros logo se juntaram os hoteleiros, os taverneiros, as donas de casa e os empregados domésticos em geral. Nas imagens da santa aparecem sempre utensílios de cozinha, com destaque para a concha, e também, obviamente, o fogão, vassouras e as chaves da casa.
Esclareça-se quanto à Ordem franciscana: São Francisco de Assis (1182-1226), ardente propagador da fé cristã, cuja pregação popular foi o seu grande meio de ação, deixou-nos, além dos estatutos da sua ordem, outras obras, poesias em língua italiana, homilias, parábolas etc. Sua Opera Omnia foi editada em Paris em meados do séc. XVII (1641).
Como ordem religiosa, a Franciscana é classificada como mendicante, ordem que teve origem nos movimentos mendicantes de pobreza medievais, que se mantinham por esmolas , vivendo seus adeptos em absoluta pobreza. A este tipo de ordem pertenciam os franciscanos menores, os franciscanos conventuais, os capuchinos, os dominicanos, os agostinianos e os carmelitanos.
AS TRÊS MARIAS
Esta Marta a que nos referimos acima é irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou, e das famosas Três Marias, cuja festa é celebradíssima na França, na foz do rio Ródano, na Camargue. Maria, mulher de Cleofas; Maria, mãe de Tiago: e Maria Madalena, que nada tem a ver com aquela que Jesus livrou dos demônios e que foi a primeira pessoa a quem o mesmo Jesus apareceu depois de ter ressuscitado. Há uma história que nos conta que todos os irmãos foram da Palestina para Marselha e dali começaram a evangelizar toda a Provença.
 |
| OSSO DA TÍBIA DE MARIA MADALENA (SUPOSTA RELÍQUIA) |
 |
| CRISTO EM CASA DE MARTA E MARIA ( DIEGO VELÁZQUEZ , 1599 - 1660 ) |
Há uma famosa tela de Diego Velázquez (1599-1660), que tem Santa Marta como tema: ela prepara uma peixada; sobre a mesa, os temperos que serão usados, alho, pimenta, ovos. Evidentemente, os peixes não são os do tempo de Marta, são, conforme se identificou, pargos, besugos, muito comuns na cozinha sevilhana do século XVII. A festa de Marta é celebrada a 29 de julho. Conforme nos informam Lucas e João, Marta deve ser vista como modelo e guia das pessoas ativamente engajadas não só nos trabalhos domésticos em geral, especialmente nos da cozinha, como na prestação de serviços práticos às pessoas necessitadas. A base da espiritualização franciscana está na vida de Francisco de Assis, nas suas experiências. Espiritualidade nos atos sem pretensão de uma organização refletida. Resolver também as contradições entre uma vida eremítica e uma vida urbana, características da vida de Francisco.
O VINHO COMO REFEIÇÃO - A primeira refeição que os antigos gregos faziam, logo cedo, pela manhã, tinha como elementos básicos pão picado e vinho puro. A essa primeira refeição se dava o nome de acratismos, palavra que quer dizer puro, não misturado.
A importância da uva na preparação de de alimentos e de bebidas alcoólicas sempre foi o destaque maior. O vinho já existia na Babilônia, a Bíblia o menciona bastante; os egípcios, embora gostassem muito de cerveja, também o bebiam. Mas a uva se impôs a todas as frutas. Sempre se fez vinho de peras, de maçã, framboesa, amora, morango, tâmara, figo, romã etc., mas, acima de todas as frutas, com a uva, a videira. Todo suco de fruta fermentado podia ser vinho, mas o de uva se mostrou imbatível.
 |
| BACO / DIONISO ( CARAVAGGIO , 1571 - 1610 ) |
 |
| GANIMEDES |
 |
| AS BACANTES |
Desde a mais remota Antiguidade o vinho sempre esteve muito mais associado ao religioso ou ao social do que ao seu caráter deletério, isto é, prejudicial à saúde. Mesmo a intemperança no consumo do vinho é colocada sob a tutela religiosa, como se pode lembrar quanto aos cultos do deus Dioniso, o deus da embriaguez sagrada, na mitologia grega. Ao favorecer a ultrapassagem do limite, provocando o êxtase, o homem possuído pelo vinho, isto é, pelo deus, entrava em contato com planos superiores da existência. Mais ainda: o vinho poderá também quebrar qualquer encantamento, permitindo-nos chegar a uma verdade mais profunda, destruindo a máscara da mentira (in vino veritas). Como tal, deveria estar na Psicologia...
A mais antiga documentação que temos sobre o cultivo da videira vem do Egito, 3000 a.C.; textos falam de uvas negras, que eram chamadas de "os olhos de Horos" (os gregos o identificavam como Apolo). Desde essa época o vinho faz parte das mais variadas cerimônias religiosas. Lembremos que o primeiro milagre de Cristo, no evangelho de S.João, foi o de transformar a água em vinho nas bodas de Canaã.
 |
| BODAS DE CANAÃ ( MURILLO , 1617 - 1682 ) |
No Cristianismo, a única observação negativa sobre o vinho nós a encontramos quando da bebedeira de Noé. Mas não podemos deixar de celebrá-lo, dentro da tradição judaico-cristã, porque foi Noé quem plantou uma videira depois do dilúvio universal. Terá que ser lembrado, sem dúvida, como o criador da vinicultura.
 |
| A EMBRIAGUEZ DE NOÉ ( MICHELANGELO , 1475 - 1564 ) |
A história prossegue: deslumbrado e alegre com o nascimento de um descendente, Noé, que havia esquecido alguns cachos de uva dentro de uma ânfora de barro, bebeu o líquido que havia lá dentro, desconhecido completamente por ele. Gostou tanto que foi bebendo cada vez mais, embriagando-se. Pôs-se a cantar e a dançar, tirou a roupa. Acabou encontrado pelos filhos, caído no chão. No teto da Capela Sistina, no Vaticano, Michelangelo retrata a embriaguez de Noé. Na Catedral De S.Marcos há também um mosaico sobre a embriaguez de Noé.
Numa coleção de textos medievais, Gesta Romanorum, há mais dados sobre a performance de Noé. Ali se narra que a uva usada por ele chamava-se labrusca, de labra, margem dos campos, de áreas de terra que a cercavam. Labrusco, lembre-se, é aquele que é inculto, agressivo. Em latim, labrusco, um, é videira brava, selvagem.
NIETZSCHE E A GASTRONOMIA – A ideia que a maior parte das pessoas, o homem comum, digamos, faz de um filósofo é a de alguém geralmente desligado das coisas materiais, do corpo físico, das chamados aspectos práticos da vida. Da alimentação, então, nem se fale! Como um filósofo, alguém invariavelmente voltado para os grandes problemas da existência, perdidos em genéricas abstrações, em problemas transcendentais, iria se preocupar com alimentos, gastronomia ou culinária? Chegando mais perto da obra de alguns, porém, constatamos que nem sempre foi assim. Alguns dissertaram sobre tais assuntos, fizeram inclusive experiências dietéticas (técnicas dietéticas, dietas, regimes alimentares etc.), dando até um lugar importante a essas questões na sua obra, questões nunca consideradas devidamente pelos historiadores da filosofia e outros.
As expressões, máximas e provérbios que temos, provenientes desse mundo, desde a antiguidade, são conhecidos: o homem é o que come; conhece o tamanho do teu estômago; comer muito não é comer bem; não pode saciar a fome quem lambe pão pintado; sob o doce mel escondem-se venenos terríveis;, a terrível gula leva mais gente à morte do que a espada; de ventre gordo não nasce sensibilidade sutil; o estômago que raramente está vazio despreza alimentos vulgares; a fome é o tempero do alimento; a fome é má conselheira; pão com sal aplaca os roncos do estômago; o que permanece no coração do sóbrio está na língua do bêbado; a primeira digestão se faz na boca...
Ao entrar nesse mundo, não podemos esquecer que a lei fundamental da vida, aliás, não é outra senão a de “comer ou ser comido”, lei que os antigos hindus expressaram através da máxima matsya nyaya, a lei do peixe, ou seja, “peixe grande come peixe pequeno”. Viver seria assim uma panfagia universal, nela se destacando dois instintos dos mais básicos, nutrição e reprodução, dois apetites que dão a dinâmica de qualquer existência.
Se quisermos colocar isto de modo mais elegante, podemos falar em fome e amor. Não é por acaso que o verbo comer, em todas as línguas, tem forte conotação sexual e porque a boca entra tanto no sexo. Isto, apesar de Freud, ter pretendido subordinar o instinto da nutrição ao sexual (comer para ele seria, de certo modo, fazer sexo). Cama ou restaurante, muitos se perguntam. Qual o mais importante?
É de se notar que modernamente foram os franceses os que melhor estudaram a gastronomia, as regras da boa alimentação. A palavra é grega: gaster, em grego, é ventre, estômago; nomia são normas, regras. Aos poucos, surge a distinção: gourmand (quantidade), gourmet (qualidade). Quanto a este último, nunca se devem perder de vista ideias como as de “boa mesa” e, o que vem dela, de modo mais refinado, estética, equilíbrio, cor etc. Por isso é que a gastronomia adquiriu o direito de ser chama pelos franceses de arte. Hoje, a importância biológica, econômica e social dos estudos da alimentação são universalmente reconhecidas.
 |
| NIETZSCHE ( EDVARD MUNCH , 1863 - 1944 ) |
Nietzsche foi um dos filósofos que muito se preocupou com a alimentação. Pode-se ousar mesmo dizer que a obra de Nietzsche, como um todo, tem muito a ver com hábitos alimentares. Ressalte-se: não propriamente com o que ele propôs através de suas ideias gastronômicas, mas, sobretudo, pelo seu modo de se alimentar.
Digamos, entretanto, que, com Nietzsche, temos certamente uma dietética mais sonhada do que praticada. Foi claramente com o seu pensamento voltado para os seu hábitos alimentares que escreveu em Ecce Homo (Eis o Homem), seu último texto (publicado post-mortem): sou uma coisa, o que escrevo é outra. A essa altura, já estava à beira do seu desmoronamento físico total.
Espírito inquieto, fantástico escritor, paradoxal, assistemático, sublime, profundo e vulgar ao mesmo tempo, Nietzsche, observe-se, nunca se interessou em dar à sua obra um caráter sistemático. Sua gastronomia vai refletir esse seu modo de ser, sendo sua dietética mais sonho que realidade. O sonho alimentar de Nietzsche ligou-se naturalmente desse modo a uma das mais caras figuras de sua filosofia, o super-homem.
Essa figura temática parte da ideia do seu chamado poder de vontade. É este poder que gera para ele o que denominou como super-homem, um ser superior em quem há de se manifestar todas as forças da vida, inclusive as daninhas. O homem comum, como sabemos, na sua fórmula, seria uma ponte entre a besta e o super-homem. Esse homem superior estaria, para ele, assim, além do humano, sendo ele o criador dos seus próprios valores e da sua própria transcendência, uma transcendência que, todavia, não o punha fora de sua própria existência, como está na sua frase magistral: os deuses morrem, o homem se torna.
O super-homem representa, segundo Nietzsche, um modo de existência que se caracteriza por uma abertura para todas as possibilidades criativas existenciais. Uma forma de vida que encontra sua plenitude neste mundo, que não constrói suas razões fora da realidade da vida (imanentismo). O homem, assim, se fazendo constantemente a si mesmo. Uma autoconstrução como arte e poesia (poiesis, em grego, inventar, criar).
Nietzsche, dentre os elementos que hão de formar esse super-homem, fala da alimentação. Lazeres, lugares e clima também concorreriam para esse fim: Sejamos os poetas de nossa vida e comecemos pelo menor detalhe, pelo mais banal (A Gaia Ciência). O homem se fazendo a si mesmo, uma autoconstrução que pede uma dietética. É no seu livro Ecce Homo que Nietzsche fala, nesse sentido, dessa proposta, alimentação como uma das Belas-Artes: Existe uma questão que me interessa em especial e da qual depende a “salvação” da humanidade, a alimentação. Para maior comodidade ou facilidade, podemos formular assim: como realmente devemos nos alimentar para chegar ao máximo da nossa força, da virtú no sentido do Renascimento, da virtude isenta de todo elemento moral.
 |
| FEURBACH |
Nos seus Manifestos Filosóficos, Feurbach fala da obediências aos sentidos: onde começam os sentidos, cessam a religião e a filosofia! Estamos, pois, diante de um sensualista positivo que vive num mundo onde certamente entra a alimentação. A boca liga-se por demais à estética e à ética, à filosofia, à conduta humana. Hábitos alimentares modelam, nesse sentido, como formas de pensar. Para Nietzsche havia que habituar o corpo a alimentos que trouxessem leveza, como que predispondo-o à dança. O alimento deveria favorecer o aparecimento do super-homem, o homem fazendo de sua vida uma obra de arte.
Será que Nietzsche conseguiu chegar ao ideal dietético do qual falou? Ele foi, sem dúvida, o filósofo que mais discorreu sobre a finalidade do corpo humano e o papel da alimentação na construção de um ser realmente pensante superior. Ele, várias vezes, se opôs à cozinha alemã, pesada e sem sutileza. As donas-de-casa alemãs produziram uma Alemanha gorda, atochada, pesada, dizia.
Se nos detivermos em tudo o que Nietzsche escreveu sobre a alimentação será certamente possível compreender a contradição em que viveu. Mais sonho que realidade. Não que ele não tivesse tentado. Suas experiências chegaram a admitir até a contradição. Nunca deixou de tentar, porém, apesar de ter enfrentado sérios problemas de saúde (a mórbida herança familiar, a sífilis, pela via materna, ao nascer, como sua carta astral o confirma.), a sua fragilidade física, a influência deletéria paterna, a vida nômade, a vida em pensões baratas, pobreza até...
Como um dos mais radicais filósofos aparecidos até hoje, Nietzsche encarnou, mais a do que qualquer outro talvez, o que costumamos chamar de liberdade de espírito ao fazer a mais contundente crítica às ideias de seu tempo. Nunca deixou de explorar o solo e o subsolo da Lógica, desconfiando inclusive de suas próprias razões. Por isso, impôs a si mesmo outras tarefas que a de realizar um novo sistema filosófico.
 |
| DILACERAÇÃO DE DIONISO |
Nietzsche, aliás, nunca foi, a rigor, tradicionalmente, um filósofo. Um poeta, talvez. Todos os seus textos são apaixonados, extremamente pessoais e, quase sempre, deixados inacabados. É, sem dúvida, o maior mestre dos aforismos, um condensador de sabedoria em poucas palavras. Quanto aos mais, como a vida, nele há sempre a descontinuidade, a expressão variada, insatisfeita. Foi alguém que se preocupou sempre com a situação existencial do homem. Dentro desta perspectiva, sua obra é exemplar. Para ele, a Filosofia nunca foi, apenas, algo mental, intelectual. O ser precedendo o conhecer. Antes um homem que um escritor, costumava dizer. Por isso, tudo o que tradição dava por assentado parecia-lhe suspeito, principalmente aquelas regras para que nos tornássemos justos ou santos. Não é por outra razão que sempre recusou ser enquadrado em qualquer regra ou sistema.